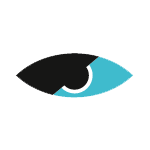Em uma loja de grife vazia, em Goiânia, a única pessoa a perceber a presença da estudante de Medicina Lara Borges, de 20 anos, foi o segurança. Ser seguida pelos corredores e ter o cuidado de só abrir a bolsa no caixa é uma rotina para a advogada paulista Agatha Nunes, de 28 anos. Para as duas jovens negras, não há dúvida de que o racismo estrutural está fortemente presente nas relações de consumo no Brasil.
E racismo é crime. Mas o fato é que há comportamentos difíceis de serem enquadrados criminalmente, mas que nem por isso deixam de ser discriminatórios e precisam ser combatidos no dia a dia do comércio.
— Há um descompasso enorme entre a legislação e a sociedade brasileira. A legislação criminalizou racismo e homofobia no plano das palavras, mas e os olhares, a invisibilidade, os constrangimentos? Esses são os grandes desafios. O que se vai dizer? ‘Você não me viu?’ Como classificar um olhar? Isso dói profundamente, mas as pessoas acabam se sentido fragilizadas, sem potência, e deixam pra lá. Isso acontece também com idosos, pessoas acima do peso… As empresas precisam levar isso a sério — diz a antropóloga do consumo Carla Barros, professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Agatha conta que as duas amigas brancas que a acompanhavam em um passeio num shopping da Zona Oeste paulista sequer se deram conta de que o segurança de uma grande varejista, na qual entraram para ver as novidades, a havia seguido por três corredores.
— Eu parei para ver perfumes, e o segurança veio para próximo. Achei que podia ser impressão, então, mudei de corredor. Na terceira vez que ele veio atrás de mim, disse para as minhas amigas que queria ir embora. Elas não entenderam, comecei a chorar e, quando contei o que tinha acontecido, me incentivaram a voltar à loja, disseram que eu tinha que me defender, afinal eu trabalho com isso — conta a advogada, que acabou processando a loja por discriminação.